
Muito prazer, meu nome é Maria Cecília
Por Mauro César Silveira
Se pudesse, ela não assinaria seus textos como Chrysanthème. Mas naqueles tempos, nas primeiras quatro décadas do século passado, uma voz feminista brasileira não deveria revelar sua identidade. Assim como sua mãe Emília, também jornalista e escritora, que usou o pseudônimo de Carmen Dolores, Maria Cecília Bandeira de Melo Vasconcelos precisou resguardar seu verdadeiro nome ao herdar a coluna semanal de Machado de Assis, no jornal O Paiz, do Rio de Janeiro, e levar adiante sua prolífica produção, tanto nas páginas da imprensa como nas obras literárias. Foram incalculáveis crônicas e artigos em inúmeros periódicos do centro do país e 16 livros, com uma diversidade estilística que inclui romances históricos e biográficos, peças teatrais, ensaios críticos e contos infantis. Com afiada ironia, buscou seu nome falso numa personagem submissa do romance Madame Chrysanthème, do francês Pierre Loti. Seu extenso e vigoroso legado foi sendo apagado, pouco a pouco, pelos cânones androcêntricos que predominam na indústria cultural do país. Quase esquecida, quase invisível, Chrysanthème ressurge, em momentos esporádicos, pela ação de ventos esparsos que escapam da nossa historiografia marcadamente machista. Uma dessas exceções, o artigo intitulado Chrysanthème: perspectivas histórico-literárias na Belle Époque brasileira, de 2009, dos pesquisadores José Pedro Toniosso e Mariângela Alonso dá a dimensão contemporânea dos textos de Maria Cecília: “Seus escritos mantêm a força e a atualidade dos primeiros tempos, no sentido de rastrear a má distribuição per capita, a miséria, a seca, as guerras, o desemprego, a transformação do espaço urbano e principalmente a condição feminina, temas de alguns dos textos escritos por esta intrigante autora no início do século XX.”
No triste cenário da Covid-19, as palavras que Chrysanthème escreveu há mais de 94 anos clamam por vir à tona. No mês em que sete especialistas da ONU e de outros organismos internacionais denunciaram que o mundo presencia, estarrecido, uma pandemia paralela, a da “violência de gênero e discriminação contra mulheres”, com aumentos dramáticos nas agressões dentro de casa, incluindo feminicídios e abusos sexuais, os artigos da jornalista adquirem trágica atualidade. No Brasil, um relatório produzido, a pedido do Banco Mundial, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que os homicídios de mulheres subiram de 117 para 143 nos meses de março e abril em 12 Estados do país. Um aumento perturbador: afinal, os registros de boletins de ocorrência diminuíram consideravelmente em relação ao mesmo período do ano passado.
“Precisamos uma qualquer garantia que nos conserve a vida junto a alguns desses senhores, demasiado certos da sua impunidade ou fáceis apreciadores dos bons ares e do descanso das nossas penitenciárias.”

No artigo publicado na edição de O Paiz de 21 de fevereiro de 1926, na coluna A Semana, Maria Cecília, sob o já conhecido codinome Chrysanthème, mostrou toda sua indignação com o brutal assassinato de uma mulher pelo próprio marido, fantasiado de pierrô, no bairro carioca de Copacabana. A jornalista bradava por uma grande mobilização contra esses criminosos: “Formemos uma liga de apoio contra tais malvados e encetemos uma brava e audaciosa campanha, sobretudo contra esses vis matadores de mulheres, que sem honra e sem escrúpulo, quando as tiveram a seu lado, inertes e dóceis, as cobriram de ultrajes, de afrontas e de maus-tratos. Uma vez abandonados e, por isso, feridos na sua vaidade de homens, vemo-los, com um sorriso mefistofélico nos lábios e vestidos de pierrô, plantarem nos pobres seios, ardentes de seiva, mas, para eles, indiferentes, a lâmina fria de um punhal covarde! Precisamos, nestes tempos, em que voltamos à época temível de Gilles de Rais, que matava as crianças, como, hoje, se matam as mulheres, uma qualquer garantia que nos conserve a vida junto a alguns desses senhores, demasiado certos da sua impunidade ou fáceis apreciadores dos bons ares e do descanso das nossas penitenciárias.”
No começo do texto, ela reconhecia alguns avanços, mas tinha consciência do longo e penoso caminho a percorrer. A história lhe daria razão. Somente seis anos depois, em 1932, o Código Eleitoral reconheceria, finalmente, o direito ao voto das mulheres brasileiras. Já tinha passado – e muito – da hora. Em 1910, havia sido criado, na então capital federal, o Rio de Janeiro, o primeiro partido de luta sufragista do Brasil, o Republicano Feminino, liderado pela professora e indigenista baiana Leolinda de Figueiredo Daltro. Levaria mais de meio século, até o ano de 1977, para que a também escritora e jornalista Rachel de Queiroz fosse a primeira mulher eleita para a Academia Brasileira de Letras.
“Na nossa terra, porém, a mulher ainda não conquistou, senão o triste direito de ‘cavar’ o pão de cada dia e a leviana licença de se vestir parcamente, continuando a ser, mais do que antigamente, a vítima imbele e indefesa do seu marido, do seu amante ou do premier venu.”
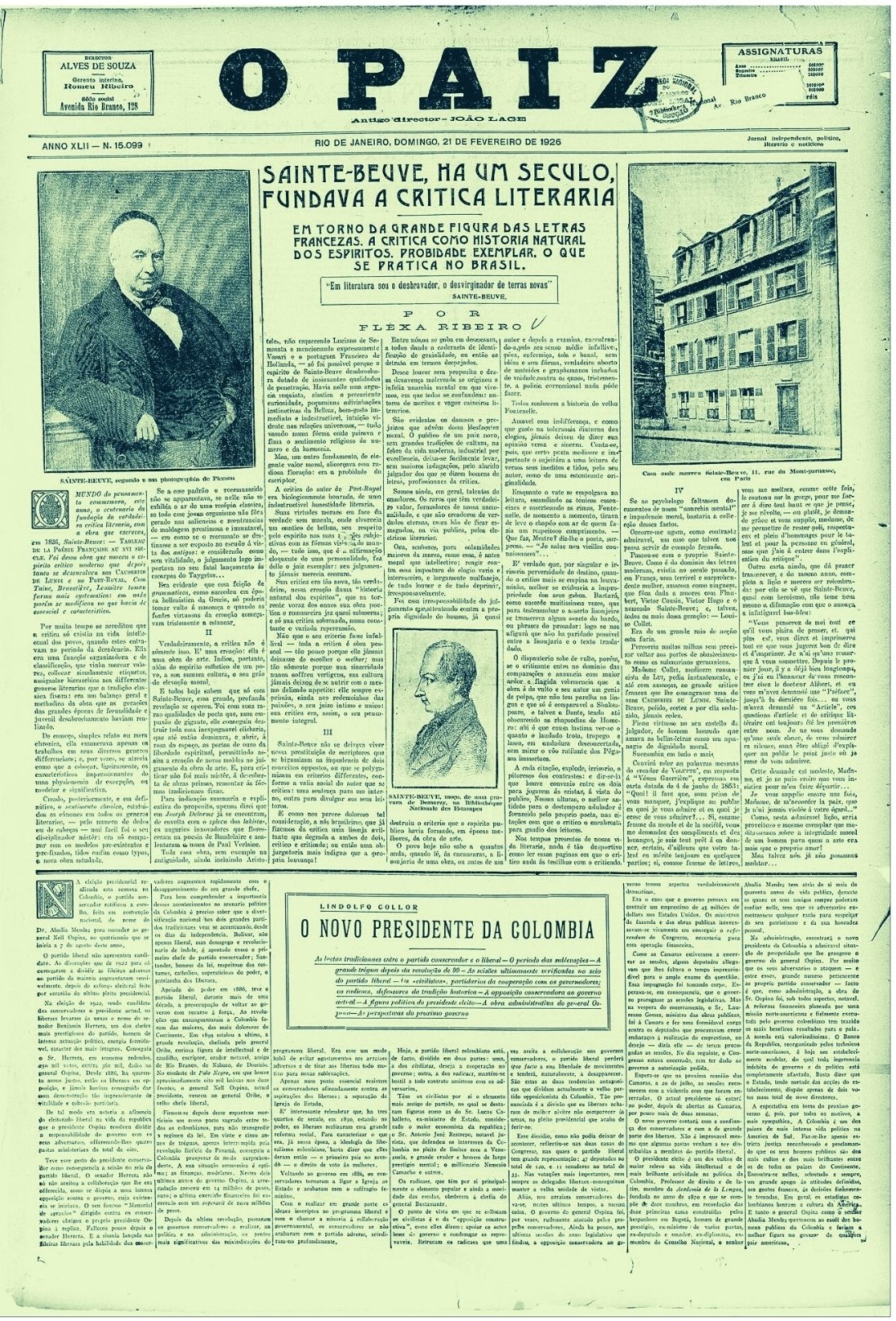
Portanto, o início do artigo de Chrysanthème admitia conquistas, mas se reportava a uma dura realidade. E não poupava os grandes e únicos privilegiados da sociedade patriarcal: “As senhoras feministas têm, realmente, conquistado no mundo inteiro superioridades e terrenos que, outrora, lhes eram injustamente negados. Muitas mulheres trabalham hoje com verdadeiro afinco e bravura, mostrando aos homens, seus rivais e combatentes na mesma arena da vida, que a inferioridade por eles a elas decretada não passava de mera fantasia ou de meio de reação da parte desse sexo, dotados de todos os direitos e de todas as licenças, atualmente, acrescidos de liberdade de matarem ou de empurrarem ao suicídio as criaturas crédulas e confiantes no seu apoio e no seu afeto. Na nossa terra, porém, a mulher ainda não conquistou, senão o triste direito de ‘cavar’ o pão de cada dia e a leviana licença de se vestir parcamente, continuando a ser, mais do que antigamente, a vítima imbele e indefesa do seu marido, do seu amante ou do premier venu.”
Em 2020, Maria Cecília Bandeira de Melo Vasconcelos é um nome que a literatura brasileira desconhece. Seu pseudônimo, Chrysanthème, foi condenado ao ostracismo pelo mercado editorial. Fora uma rara e cuidadosa produção especial lançada no ano passado pela Editora Carambaia, de São Paulo, de seu livro Enervadas, de 1922, sua vasta obra tem sido solenemente ignorada. Essa edição impressa, numerada à mão e limitada a 1.000 exemplares, destinada a resgatar a autora do limbo, esgotou rapidamente. Pelo menos o ebook desse trabalho está disponível para compra em alguns sites. Sua importância é extraordinária: até então, a única cópia da obra conhecida se encontrava no Real Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro, pois um exemplar remanescente do acervo da Biblioteca Nacional foi extraviado. O caráter combativo dos textos de Chrysanthème é uma das razões apresentadas por estudiosos de Literatura Brasileira para explicar o descaso das editoras nacionais. Nem sempre foi assim. Em sua época, o pseudônimo Chrysanthème causava furor. Seus artigos e seus livros eram lidos avidamente pela reduzida elite leitora do país – pelo censo de 1920, o analfabetismo ainda atingia 71,2% da população de pouco mais de 26 milhões de pessoas com mais de cinco anos de idade. Nas páginas dos jornais Diário de Notícias, Correio Paulistano e, principalmente, em O Paiz, onde ocupou a antiga coluna de Machado de Assis, ou em livros como Enervadas ou A infanta Carlota Joaquina, mantinha um público vivamente interessado na sua produção jornalística e literária.
“Ao homem, tudo é perdoado, explicado, permitido; à criatura do sexo feminino, uma vez infeliz na escolha do companheiro da existência, tem diante de si o isolamento, a tristeza, a calúnia, a maldição…”

Na revista D. Quixote, do Rio de Janeiro, onde costumava receber críticas favoráveis e era citada como a jornalista mais lida do país, o impacto de seu trabalho na sociedade carioca do início do século XX também merecia registro. Na edição número 273, de 2 de agosto de 1922, dessa publicação satírica, a repercussão de Enervadas foi sintetizada num diálogo entre dois personagens: “O que terá aquela criatura, que vai ali toda trêmula?”, diz um. “Com certeza, leu Enervadas, de Mme. Chrysanthème”, responde o outro. Nesse romance, Maria Cecília mostra a história de mulheres insubmissas, independentes, que se recusam a aceitar os papéis tradicionais que lhes são impostos pela sociedade. Maria Helena, apresentada como lésbica, é descrita como detentora de “beijos gulosos. que cravavam-se a todo instante nos lábios da favorita do momento”. Magdalena cheira cocaína e se intitula “bolchevista feroz”. A narradora Lúcia se define dessa forma: “Esbelta, alta, de rosto fino, olhos perversos, em toda eu transpira o anseio louco de ser admirada, desejada e de sentir bem nos lábios, que uma macia e rósea polpa forra, todo o sabor gostoso da vida.” A mesma personagem amplifica as ideias da autora: “Ao homem, tudo é perdoado, explicado, permitido; à criatura do sexo feminino, uma vez infeliz na escolha do companheiro da existência, tem diante de si o isolamento, a tristeza, a calúnia, a maldição… As nossas leis esquecem o progresso do mundo e o novo papel da mulher na sociedade e no universo, papel em que ela se mostrou mais corajosa, mais inteligente e mais útil do que os homens.” Já no livro A infanta Carlota Joaquina, outro grande sucesso editorial, Chrysanthème descontrói a ideia de que a rainha luso-brasileira era uma megera, como é apresentada em muitos trabalhos históricos.
Mais recentemente, o escritor e jornalista Ruy Castro lembrou dela no livro Metrópole à beira-mar: O Rio moderno dos anos 20. Ao comentar a obra, lançada em novembro de 2019 pela Companhia das Letras, define Maria Cecília como “a colunista mais bem paga de todo o Brasil” naquela época. Nessa obra, ele se reporta ao contexto histórico que envolvia a cidade do Rio de Janeiro no final da década de 1910: os efeitos da Primeira Guerra Mundial e as funestas consequências da gripe espanhola, que fez mais de 35 mil mortes no Brasil e, em janeiro de 1919, levou à morte do presidente eleito, para um segundo mandato, Rodrigues Alves. Mas cita outras mulheres do jornalismo e da literatura em evidência nos anos 20 do século passado, como Albertina Bertha, Rosalina Coelho Lisboa, Mercedes Dantas e Gilka Machado. Numa entrevista publicada pelo Correio Braziliense em janeiro deste ano, ele admitiu sua surpresa ao descortinar esse Rio feminista de um século atrás: “Algumas mulheres eu já conhecia vagamente, como Elsie Houston, Chrysanthéme e Carmen Dolores. Sobre Eugenia Álvaro Moreyra sempre tive enorme curiosidade, inclusive por ser amigo de uma neta dela, a querida e já falecida Sandra Moreyra. Mas Vera Janacópulos, Zaíra de Oliveira e Albertina Bertha foram descobertas até para mim. O Rio era bastante feminista, sim, tanto que havia vários movimentos de mulheres. A literatura feminina da época era muito atuante nesse sentido.” Tanta movimentação contra o machismo não impediu que a certidão de óbito da mais bem sucedida autora daqueles tempos estampasse sua profissão como “doméstica” quando ela faleceu, no ano de 1948. Também não conseguiu romper as barreiras até então intransponíveis da Academia Brasileira de Letras. Se, depois, alguns desses obstáculos misóginos vigentes nos primeiros decênios do século XX foram superados, outros persistem e precisam ser derrubados. Um deles é o que apaga, na memória cultural do Brasil, todas essas jornalistas e escritoras. Em certo sentido, retrocedemos. Muito. O silêncio que as ignora diz mais sobre o hoje do que o ontem do nosso desconcertante país.


Um comentário
Pingback: