
Quem pode julgar Anna?
O limite entre a realidade e a ficção na extravagante e controversa vida de Anna Delvey, condenada pela justiça e aclamada nas redes sociais
Por Bárbara Dal Fabbro e Mauro César Silveira
Não importa quem você é, em que país mora, ou sua idade e preferências, se você está conectado à grande rede e consome avidamente as produções disponibilizadas nos streamings, sabe, ou pelo menos já se deparou com Anna. Um nome tão comum, com uma grafia nem tão usual para nós, brasileiros, que acaba chamando a atenção por si só. E essa foi precisamente a tática utilizada pela Netflix e pela produtora ShondaLand para que mergulhássemos no mistério dessa ilustre desconhecida. Afinal, quem é Anna?
Inventando Anna foi disponibilizada no Brasil na plataforma digital em fevereiro de 2022 e tem se mantido não só como uma das escolhas entre os espectadores, mas, por se basear em uma história real, com “retoques” ficcionais, entre os jornalistas e curiosos que se debruçam sobre a fascinante, e mirabolante, história de Anna Sorokin, ou como ficou conhecida: Anna Delvey. A chancela da talentosíssima Shonda Rhimes e um elenco escolhido com precisão dramática, e por vezes cômica, fazem dessa minissérie uma constância nas conversas informais, nos sites de notícias e nas redes sociais, tão exploradas no intrincado enredo.
Os nove episódios da produção foram insuficientes para colocar ponto final na trama. Nem poderia ser diferente. A realidade de Anna segue nervosa, movediça, em vívido suspense. Tudo indica que vem nova e trepidante temporada pela frente. Nestes últimos dias de março, a falsa herdeira milionária, reclusa na prisão de Orange County, em Goshen, no Estado de Nova Iorque, sob custódia do Serviço de Imigração e Controle de Aduanas dos EUA, pode ser deportada a qualquer momento para a Alemanha. Sorokin, hoje com 31 anos, aterrissou na maior cidade norte-americana em 2014 disposta a criar a ambiciosa Fundação Anna Delvey – um sofisticado clube cultural, com foco nas artes plásticas e na moda, dirigido às pessoas do mais elevado poder aquisitivo. Até ser detida, em 2017, ela convenceu magnatas nova-iorquinos da viabilidade do seu projeto, circulando com desenvoltura em hotéis e restaurantes luxuosos e exibindo roupas das mais altas grifes.
Julgada e condenada dois anos depois, acusada de vários furtos e golpes, Sorokin – que nasceu na Rússia, mas imigrou com a família aos 15 anos para a Alemanha – cumpriu parte da pena de 12 anos de prisão e obteve liberdade condicional em fevereiro do ano passado. Mas não durou muito: seis semanas depois, foi detida, por ter expirado seu visto de residência nos Estados Unidos.
Anna agora está em situação ilegal no país, mas tem status de celebridade. Na quarta-feira da semana passada, dia 16, deu entrevista telefônica desde a prisão para Alex (Alexandra) Cooper, do podcast Call Her Daddy, com 2,3 milhões de seguidores. Entre outras coisas, elogiou o trabalho da atriz e modelo estadunidense Julia Garner, que a representou na minissérie, e revelou que a escolha do sobrenome Delvey foi aleatória. “Não tenho apego a nenhum país ou sobrenome, não é a forma que me defino”, respondeu à influencer Alex Cooper. No dia seguinte, participou, através de chamada de vídeo, com seu inconfundível par de óculos da marca de luxo francesa Celine, da mostra Free Anna Delvey! no bairro nova-iorquino de Lower East Side, onde estão expostos desenhos que ela fez na prisão. “Liberdade para Anna Delvey!”, gritavam as pessoas quando ela se conectou.
A jornalista, nesse cenário, nivela-se à maioria dos leitores e espectadores de classe média baixa, que se encontram exauridos por seus trabalhos, consomem apenas o essencial, conectam-se ao mundo (e o apreendem) via redes sociais e nutrem um sentimento quase universal de que os milionários (e bilionários) vivem em uma realidade paralela enquanto os demais lutam para sobreviver.
Uma notoriedade que começou em maio de 2018, no ano anterior à sua condenação, na reportagem intitulada Maybe She Had So Much Money She Just Lost Track of It (Talvez ela tivesse tanto dinheiro que perdeu a noção disso), na New York Magazine, que inspirou a série da Netflix. O resultado do trabalho investigativo de autoria da jornalista Jessica Pressler, que a visitou incontáveis vezes na prisão, representou para Anna Sorokin a surrada metáfora da faca de dois gumes: ao mesmo tempo que ofereceu sólidas e preciosas informações sobre suas ações ilegais e fraudulentas, contribuindo para levá-la à pena condenatória, a tornou uma forte personagem midiática. Seu julgamento, previsto inicialmente para se constituir num evento de baixa repercussão, um tanto discreto, se converteu numa passarela virtual no Instagram, em que a falsa herdeira desfilava vistosos modelos de roupa a cada aparição no tribunal. Esse efeito paradoxal da produção jornalística é apenas um dos muitos dilemas profissionais enfrentados pela repórter. Não por acaso, Jessica Pressler – na pele de Vivian Kent, com bela interpretação da estadunidense Anna Chlumsky – rivaliza em protagonismo com sua retratada, no grande acerto da mais recente criação de Shonda Rhimes. Suas angustiantes dúvidas permeiam toda a série até as últimas cenas da série, no nono episódio. Afinal, quem tem legitimidade para julgar Anna?
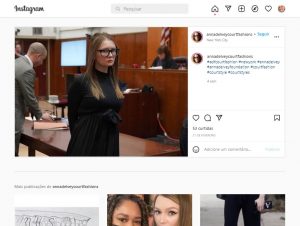
Esse questionamento moral é o motor de toda a narrativa. Vivian Kent se interessa pela história exatamente pela excentricidade. Como uma mulher tão jovem conseguiu ludibriar grandes nomes da alta sociedade nova-iorquina, e instituições consolidadas, apenas “parecendo ser” milionária como eles? O conflito de sentimentos da repórter em relação a Anna se justifica, também, na posição social em que Vivian se encontra. A minissérie caracteriza muito bem a estratificação social que as difere, não só em aportes financeiros, mas na relação com a moda, por exemplo. A jornalista, nesse cenário, nivela-se à maioria dos leitores e espectadores de classe média baixa, que se encontram exauridos por seus trabalhos, consomem apenas o essencial, conectam-se ao mundo (e o apreendem) via redes sociais e nutrem um sentimento quase universal de que os milionários (e bilionários) vivem em uma realidade paralela enquanto os demais lutam para sobreviver.
Na obra “baseada em fatos reais” – mas nem tanto, como somos lembrados a cada início de episódio –, há uma retomada quase inconsciente do embate antológico entre o “ser” e o “parecer”. Entre a essência e a aparência. As protagonistas demonstram claramente essa diferenciação em seus atritos e alfinetadas intencionais. Anna, por diversas vezes, critica a aparência de Vivian e como ela se apresenta em suas entrevistas. O fato de a jornalista não preferir o tratamento VIP parece reforçar para a entrevistada o seu “baixo entendimento” não só sobre a vida e os valores que deveria nutrir, mas sobre ela mesma, Anna, que merece muito mais do que está sendo ofertado. Afinal, sua persona é uma herdeira alemã, milionária, bem relacionada e visionária (sendo tão jovem), não uma entrevistada “qualquer”.
Acompanhar o trabalho de apuração e defesa da pauta, os diversos recursos necessários para se chegar à “verdade” sobre aquela personagem, as incontáveis horas de pesquisa e telefonemas para se aproximar daqueles nomes que poderiam traçar um panorama mais amplo sobre Anna, são um deleite para aqueles que argumentam em favor de um jornalismo de conteúdo frente à desinformação propagada devido à instantaneidade que a internet cobra dos meios de comunicação. O esforço empregado pela jornalista, até a entrega final, exigiu dela um mergulho consciente, mas não tão saudável, na vida de Anna, seja quem ela fosse. Uma imersão dessa magnitude irá transformar a repórter a cada episódio, a cada descoberta, a cada entrevista.
Nem sempre os repórteres aplicam em seu ofício o rigor de apuração empregado por Vivian Kent. A história do jornalismo está repleta de casos de disseminação de falsas informações e de personagens fictícios desde o século XIX, com o surgimento daquele que é considerado o primeiro editor de fake news, Benjamin Day, fundador do The Sun, em Nova Iorque. Como já vimos aqui mesmo no Jornalismo & História, ele publicou, a partir de 25 de agosto de 1835, uma série de reportagens “reveladoras” sobre a descoberta de vida na lua, propagando versões fantasiosas que alcançaram diferentes quadrantes do mundo e que se mantiveram no imaginário de muitas pessoas duas décadas mais tarde.
A tenaz perseguição da “verdade” exigiu um envolvimento pessoal e emocional com a fonte. E isso sempre implica em dilemas de foro íntimo, às vezes, atingindo o âmbito existencial.
Não há mais dúvida que o advento da internet e a onipresença das redes sociais potencializaram os desvios éticos da profissão. Agora, os estragos ocorrem com muito mais frequência. A partir do início deste século, o jornalismo brasileiro protagonizou vários casos de divulgação de inverdades – as chamadas barrigas, no jargão profissional –, oferecendo espaço para pessoas tão inventadas como Anna Delvey ou que se passavam por outras. Agindo desde a década de 1990, o golpista Marcelo Nascimento da Rocha enganou muita gente no carnaval de Recife, no ano de 2001, fingindo ser Henrique Constantino, filho do dono da Gol, empresa aérea fundada naquele mesmo ano. Marcelo VIPs, como se tornou conhecido, circulou em camarotes da festa, e deu algumas entrevistas à imprensa, uma delas ao vivo para o jornalista Amaury Jr. Depois de ser preso e descoberto, foi tema de livro e do documentário VIPs: Histórias reais de um mentiroso, também exibido pela Netflix até 2020, ambos trabalhos de Mariana Caltabiano.
Em março de 2005, o repórter Renato Alves, do Correio Braziliense, empenhou-se numa exaustiva apuração, depois de ler a impactante matéria intitulada Piercing na língua causa infecção cerebral em brasiliense, publicada no jornal laboratório do curso de jornalismo do Centro Universitário IESB, de Brasília. Seu objetivo era aprofundar a notícia que denominou como “furo do ano” no Observatório da Imprensa. Partindo dessa inesperada pauta universitária, ele percorreu um longo caminho, intrigando-se cada vez mais, até constatar que era uma reportagem falsa, mesmo supervisionada pelos professores. Localizada depois de uma perseverante busca de Renato Alves, a aluna do curso confessaria, pelo telefone, que a história havia sido contada por uma tia de Paracatu (MG) e que ela inventou no texto os nomes de alguns médicos, supostamente da Unimed, para dar mais “credibilidade” ao trabalho. Sua justificava chocou o repórter do Correio Braziliense: “Você sabe como é. A gente escreve a matéria, o professor mexe, aí vem um editor, que também é aluno, e mexe mais ainda. Eles gostam de matéria que chame atenção”.

Outro caso emblemático é o de um certo artista japonês que atendia pelo original nome de Souzousareta Geijutsuka. Em janeiro de 2006, ele foi anunciado pela imprensa cearense, com toda a pompa e circunstância, como convidado especial da curadoria do Museu de Arte Contemporânea do Ceará para abrir sua exposição Geijitsu Kakuu em Fortaleza. Esse astro internacional que, segundo material divulgado por sua assessoria de imprensa, “incorpora novos conceitos à arte”, frustrou a imensa expectativa pela sua presença na capital cearense. Ele não apareceu, e por uma razão muito simples: é uma invenção do artista verdadeiro chamado Yuri Firmeza, então com 23 anos, um paulistano radicado no Nordeste desde a infância. “A intenção foi mostrar como a arte hoje em dia encontra-se subordinada a exigências e manipulações mercadológicas e a modelos construídos e legitimados pela mídia, pelas galerias e pelos museus”, declarou depois que a farsa foi desmontada. A história de Souzousareta Geijutsuka, contada pelo premiado escritor e jornalista Lira Neto nas páginas do jornal Estado de S. Paulo, no dia 17 daquele mês, sob o título Um artista “genial”. E ele nem existia, pode ser conhecida em detalhes aqui.
Cinco anos atrás, em julho de 2017, outro personagem forjado, dessa vez no Instagram, ludibriou a BBC Brasil, um dos canais de informação que se notabiliza pela rigorosa checagem dos dados que publica. O site exibiu naquele mês fotos e vídeos de autoria de um heroico fotógrafo brasileiro a serviço da ONU, dedicado a registrar, com ardor missionário, cenas tocantes de sofrimento humano em áreas de conflito bélico e em campos de refugiados, como no Iraque e na Síria. Atestava a suposta veracidade do trabalho de Eduardo Martins – que também não existe – seus 127 mil seguidores no Instagram. Dois meses depois, quando a comovente história desmoronou, a BBC Brasil foi obrigada a apresentar suas desculpas aos leitores “pelo engano”, assumindo o compromisso de “reforçar nossos procedimentos de verificação”.
Não foi o desleixo profissional que angustiou Vivian Kent na produção da reportagem que esmiuçou as andanças de Anna Delvey. Longe disso. Houve apuração de sobra. O problema ético, nesse caso, é bem outro. Mais elevado, que mexe com a essência do próprio jornalismo. A tenaz perseguição da “verdade” exigiu um envolvimento pessoal e emocional com a fonte. E isso sempre implica em dilemas de foro íntimo, às vezes, atingindo o âmbito existencial.

Foi assim com o lendário repórter estadunidense Joseph Mitchell e os dois perfis que escreveu para a The New Yorker sobre o mesmo personagem, Joe Gould – um intelectual andrajoso que vivia perambulando pelo Greenwich Village, o bairro boêmio de Nova Iorque. O primeiro perfil foi publicado em 1942 e o segundo, sete anos após a morte do retratado, em 1964. Um intervalo de mais de duas décadas. No último trabalho, Mitchell elucida o grande mistério que rondava sua fonte, com quem conviveu intensamente por um bom período, depois que a matéria inicial foi publicada.
O repórter da paciência infinita constrói o segundo perfil atormentado por dúvidas monumentais, que abalam até mesmo suas convicções sobre a natureza do trabalho jornalístico, que ele expõe de forma visceral com o seu primoroso texto. Mitchell não publicou mais nenhuma linha até o ano do seu falecimento, em 1996, mesmo se deslocando para a redação da revista ainda por muitos anos. Os dois perfis foram reunidos no livro O segredo de Joe Gould. Quem acompanha a narrativa até o derradeiro ponto, parece ouvir uma voz agônica, perguntando desesperadamente: Afinal, quem tem legitimidade para julgar Joe Gould?
A série impele o espectador a questionar a própria relação com o que consome, como o faz, com que expectativa… Escancara e polemiza sobre a busca e o custo do status quo almejado por tantos e alcançado por tão poucos.
A imersão profunda de Vivian Kent na vida da personagem Anna Delvey se depara, inevitavelmente, com a penosa, porém valiosíssima, provocação da prestigiada jornalista estadunidense Janet Malcolm no primeiro parágrafo do livro O jornalista e o assassino: uma questão de ética. Nessa obra, ela narra a história de um médico, Jeffrey MacDonald, que, condenado pelo assassinato da esposa e das duas filhas, moveu um processo contra um jornalista que escrevera um livro sobre ele com base em entrevistas feitas durante o julgamento e na prisão.
As palavras de Janet Malcolm têm efeito perturbador:
“Qualquer jornalista que não seja demasiado obtuso ou cheio de si para perceber o que está acontecendo sabe que o que ele faz é moralmente indefensável. Ele é uma espécie de confidente, que se nutre da vaidade, da ignorância ou da solidão das pessoas. Tal como a viúva confiante, que acorda um belo dia e descobre que aquele rapaz encantador e todas as suas economias sumiram, o indivíduo que consente em ser tema de um escrito não ficcional aprende — quando o artigo ou livro aparece — a sua própria dura lição. Os jornalistas justificam a própria traição de várias maneiras, de acordo com o temperamento de cada um. Os mais pomposos falam de liberdade de expressão e do ‘direito do público a saber’; os menos talentosos falam sobre a Arte; os mais decentes murmuram algo sobre ganhar a vida”.
Vivian Kent evidencia ter consciência de tudo isso nas cenas finais da minissérie. Primeiro, no tenso diálogo com Todd Spodek, o advogado de defesa de Anna Delvey, após a condenação da falsa herdeira:
– Doze anos. Daqui a 12 anos minha filha terá um celular. Em 12 anos, não terá gelo no Mar Ártico. Em 12 anos, Anna terá 40. Não será mais uma sensação. Não será uma estrela do Instagram. Não será filha do zeitgeist ou rainha dos millenials. Vai ser uma solitária de meia-idade cuja vida foi roubada.
– O que quer que eu diga? Não a fez dar a entrevista? Não a usou? Não pegou uma sentença maior por causa da imprensa? Desculpe, você ganhou mais cliques e Anna, mais tempo (de prisão). Simples assim.
Depois, na última visita à Anna Delvey no cárcere, com a sua amargurada rendição:
– Só quero dizer que sinto muito. Por como tudo acabou. Por tudo isso. Eu nunca achei… Você não merece essa sentença. Os caras que quebraram os bancos de Wall Street não tiveram essa sentença. Se eu não tivesse escrito a matéria… Você só está começando. Você cometeu erros, mas estou pedindo desculpas.
Inventando Anna é muito mais que uma minissérie para entretenimento. É mais que o retrato “não-ficcional com requintes ficcionais” de uma personagem real. A série, brilhantemente roteirizada e produzida, levanta importantes questionamentos não só sobre a sociedade em que vivemos e os valores que para ela são “caros”; impele o espectador a questionar a própria relação com o que consome, como o faz, com que expectativa… Escancara e polemiza sobre a busca e o custo do status quo almejado por tantos e alcançado por tão poucos.

O fato de Anna Sorokin ser capaz de criar uma persona que se tornou real e possível aos olhos de uma sociedade pautada nas interações virtuais e no “quem é visto é lembrado” delineia uma imprescindível reflexão em nossas mentes sobre a realidade apreendida e que Zygmunt Bauman, em Vigilância Líquida (2013) expressa com tamanha assertividade: “Somos permanentemente checados, monitorados, testados, avaliados, apreciados e julgados.” Anna habilmente aproveitou-se desse entendimento tácito para “parecer ser” e ser acolhida na personalidade inventada.
Quem pode julgar Anna? É inegável que a justiça se pauta em preceitos legais e na compreensão do rol de crimes listados contra instituições bancárias, hotéis, prestadores de serviços e outros para proceder o julgamento e a possível e iminente deportação da senhorita Sorokin; porém, todos nós, como deixa claro o personagem do advogado de defesa Todd Spodek, em níveis conscientes ou não, apresentamo-nos à convivência social criando personas correspondentes a cada ambiente. Ao citar Sinatra no julgamento, o advogado lança mão da estratégia de defesa “fingir ao máximo”, baseando a condução de seu caso na tentativa de Anna de “se dar bem” na cidade grande. Um desejo de todos que se deparam com a máxima de “ser alguém na vida”.
Nem sempre isso dá certo. Anna foi condenada e segue presa, prestes a ser deportada. Já a repórter Jessica Pressler (a Vivian Kent da série), hoje na Vanity Fair, aprendeu como é difícil lidar com esse complexo emaranhado de personas que circulam no nosso mundo atual, mais virtual do que real. Um desafio a mais para o exercício do bom jornalismo.


